(Não é um papa, mas parece)
31 de outubro de 1517. Martinho
Lutero publica as famosas “95 teses”, condenando o inescrupuloso comércio de
indulgências. Prometendo um “lugarzinho no Céu” para as almas do purgatório e
assegurando o perdão até mesmo para os pecados que ainda seriam cometidos, a
Igreja acumulava fortunas e construía a Basílica de São Pedro, às custas do
trabalho pesado, do suor e até do sangue do povo. Quinhentos anos se passam.
Ligamos a televisão e vemos pastores, bispos e “apóstolos” pedindo dinheiro sem
parar, vendendo objetos “ungidos” pela bagatela de um salário mínimo (ou mais),
inventando o “trízimo”, lançando praga em quem não é dizimista fiel e
ameaçando-os com o fogo do inferno. “Sacrifícios” como a chave da casa ou do
carro, cujo propósito é deixar um pastor rico mais rico ainda, enquanto o povo
dessas igrejas é esmagadoramente pobre e simples. Por estarmos no século XXI, chega
a ser ainda mais escandaloso que a venda de indulgências, que Lutero e os
protestantes tanto combateram.
Eu tenho um amigo de outro país
que era fanático pela Igreja Universal, daquele tipo que tinha a foto do Edir
Macedo no perfil do facebook e que tentava me converter, apesar de saber que eu
já era evangélico. Não perdia um culto, falava muito disso, era o mais
empolgado que eu já vi. Até que um dia ele foi constrangido a fazer aquilo que
eles chamam de “sacrifício no altar”. Usando o exemplo de Isaque, pediam para
dar à “obra do Senhor” (leia-se: a eles mesmos) aquilo que tinham de maior
valor, fosse o que fosse. Esse meu amigo tem pais divorciados e sustenta
sozinho uma família com quatro pessoas. Desempregado, tinha como único bem
material o computador. Após tanta insistência e pressão psicológica, ele decidiu
“sacrificar no altar” esse computador, ficando mais de meio ano sem um. Não
preciso dizer que quando ele se deu conta da baita furada em que se meteu saiu
da igreja – não da Igreja Universal, mas de qualquer igreja, porque quando
essas pessoas se decepcionam com uma igreja, formam um conceito negativo de
todas. É hoje um desviado, mas pelo menos tem um notebook velho que eu doei por
sedex.
Eu poderia passar aqui o dia
inteiro contando casos assim, e casos incomparavelmente piores. A apelação
chegou a um nível tão bizarro que você não sabe o que é pior, o canal do padre
rezando o Ave-Maria cinquenta vezes seguidas ou o do pastor falando só de
dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Evidentemente, não são todas as igrejas
evangélicas que fazem este perfil, do contrário eu jamais seria um evangélico.
Mas é um tipo de igreja que está crescendo cada vez mais, especialmente nas
camadas mais pobres, iludidas com promessas de bênçãos materiais e prosperidade
fácil, que conseguirão através dos “sacrifícios”. É irônico e perturbador que
a velha mentalidade católica das indulgências tenha ressuscitado na era
moderna, não no próprio catolicismo, mas justamente entre os sucessores
daqueles que denunciaram as indulgências lá atrás.
Quando eu parei pra pensar, vi
que na verdade muito mais foi importado do catolicismo medieval direto para as
igrejas contemporâneas. Um exemplo disso são os “sabonetes ungidos”, a “meia
consagrada”, a “água benta”, a “caneta sagrada” e milhares de outras bugigangas
que são vendidas a preços exorbitantes nessas igrejas, passando a perna no povo
descaradamente. Você jamais compraria uma caneta por cem reais, mas se eu
dissesse que tenho uma caneta mágica que te fará vencer na vida e comer do
melhor desta terra – e você acreditasse nisso – eu aposto que você compraria,
acreditando que vale a pena esse bom negócio. Isso é o que eles fazem, trocando
a “magia” pela “unção”, como se houvesse algo naquele objeto físico que o
tornasse mais sagrado, mais importante ou mais qualquer coisa em relação aos
objetos “normais”. A diferença disso para a “mágica” é nada.
Quando lemos os livros de
história, vemos algo curioso: a mesma Igreja que vendia indulgências também
tinha suas milhares de “relíquias sagradas”, tais como os infindáveis pedaços
da cruz de Cristo espalhados na Europa inteira, as muitas cabeças de João
Batista e até mesmo o leite das mamas da virgem Maria, que assombrou Calvino quando
ainda era católico e que escandalizava humanistas esclarecidos como Erasmo de
Roterdã. As próprias cruzadas foram fruto desse pensamento, pois o papa Urbano
II jamais decidiu lutar contra os muçulmanos pelas razões que os revisionistas
alegam hoje. Seu discurso se centrava exclusivamente na “libertação da Terra
Santa”. Os árabes podiam ter conquistado inúmeras terras que já haviam sido
cristãs, mas só uma importava: Jerusalém. E como Jerusalém era sagrada, milhões
de vidas pagaram tentando “libertá-la” e reconquistá-la (para no fim das contas continuar tudo como estava).
A Reforma buscou justamente
acabar com essa esculhambação do sagrado, chamando as coisas por aquilo que são.
Os “pedaços da cruz de Cristo” não eram objetos sagrados, eram apenas madeira.
Jerusalém, fisicamente falando, é apenas uma terra como qualquer outra, apesar
de ter uma história especial na Bíblia. Uma oração feita em Jerusalém não
chegava mais rápido aos ouvidos de Deus do que uma feita em qualquer outro
lugar, alguém com um pedaço da cruz de Cristo em casa não atrairia as bênçãos
divinas só por causa disso, e aqueles que compravam um papel achando que
estavam recebendo o perdão (indulgência) dos pecados estavam apenas comprando
papel por um preço consideravelmente acima do convencional.
Para os reformadores, nossa
verdadeira preocupação não deveria estar nas coisas, mas em quem somos. Uma fita no carro não vai evitar
batidas, mas se buscarmos a Deus com todo o nosso coração, alma, força e
entendimento, teremos o verdadeiro prêmio do cristão: a vida eterna. Assim, o
foco deixava de estar nos objetos e passava a Cristo. Por isso a Reforma foi,
antes de tudo, um movimento Cristocêntrico,
onde Cristo voltava a ocupar o lugar central do qual já havia sido
expurgado há tanto tempo. O “Sola Christus” não era um chavão desprovido de
significado, mas o centro de toda a teologia da Reforma. E Cristo não estava
escondido em Jerusalém, pendurado em um crucifixo, mergulhado numa água benta
ou amarrado numa fitinha, mas vivo no coração de cada um de nós, que devemos
adorá-lo em espírito e em verdade (Jo
4:24). Era assim que pensavam os reformadores.
Então veio a “Igreja moderna”,
jogando na lata do lixo todos os princípios mais básicos da Reforma e voltando
os olhos novamente para as coisas. A “água benta” do catolicismo virou a “água
ungida” de certas igrejas, que pegam do catolicismo o modelo que já havia sido
denunciado e derrotado pelos reformadores. A Bíblia, que para uns é apenas um
amuleto da sorte para deixar aberto no Salmo 91 e “espantar os males”, para
outros é um livro com meia dúzia de textos para serem tirados do contexto e
convertidos em promessas vazias, sem nenhum respeito pelas regras mais básicas
da interpretação.
A própria ideia do “sacrifício”
é uma noção anticristã, que ignora o fato de que o verdadeiro sacrifício que
nos traz a vida é o que Jesus já fez na cruz do Calvário, e não um computador,
um carro, uma casa ou um fardo qualquer. Eu me lembro do dia em que certo
televangelista subiu um monte supostamente muito alto, levando em suas costas
milhares de pedidos de oração de membros da sua igreja (ou qualquer outra coisa
que fosse para passar a impressão de que estava muito pesado). Após tamanho
sacrifício, o guerreiro finalmente chegava ao topo do monte, fazendo toda a
questão do mundo de ressaltar o quanto ele sofreu para chegar ali, como se isso
o fizesse melhor do que um crente qualquer que orasse no conforto de casa por
todos aqueles pedidos. Qual a diferença disso para o conceito católico do
autoflagelo, em que padres mutilam seus próprios corpos para provar o quanto
são “abnegados”? Nos dois casos, temos alguém fazendo o que não precisa e Deus
não mandou, apenas para mostrar o quão santo e piedoso é.
Foi esse conceito de
“sacrifício” que criou a doutrina católica da penitência, pela qual um fiel que
cometeu um determinado pecado tem que repetir uma reza trocentas vezes ou fazer
uma peregrinação a qualquer lugar “sagrado” (de joelhos, de preferência) até
que Deus finalmente dê o braço a torcer e decida que ele está “perdoado”. Jesus
apenas disse «vá e não peques mais», mas como para eles isso é light demais, preferem impor uma série de penitências e sacrifícios para
conseguir, aí sim, o favor divino. Sacrifícios esses que são repetidos, senão à
risca, pelo menos em boa medida por pastores modernos, que exigem dos seus
fieis coisas que Deus não pediu, mas eles sim.
Outra
coisa exigida por muitos
pastores nos dias de hoje, exatamente da forma católica que a Reforma
tanto
combateu, é a submissão acrítica e incondicional à autoridade (no caso
protestante, ao pastor). Na época de Lutero (e ainda hoje, mas naquela
época muito mais) o papa era tratado como uma sumidade intocável, quase
que um ser divino
na terra, o representante de Deus entre os homens, o “bispo dos bispos” e
aquele a quem não se podia questionar nada. No início eles se chamavam
de
“vigários de Pedro”, depois acharam que isso era pouco e passaram a se
chamar
“vigários de Cristo” (tenha em conta que o significado de vigário é
“substituto”, ou seja, aquele que se coloca no lugar de outro).
Essa submissão incondicional era
exigida pela Ordem dos Jesuítas, cuja máxima, que eu nunca me canso de repetir
aqui, é que “o branco que eu vejo é preto, se a
hierarquia da Igreja assim o tiver determinado”
– nas imortais palavras de Inácio de Loyola. Isso também era requisitado pelos
próprios papas, como já era de se esperar, sendo um exemplo clássico o discurso
oficial do papa Pio X chamado “Como Amar o Papa”, que entre outras coisas diz
que “não se fica a discutir sobre o que ele manda
ou exige, a procurar até onde vai o dever rigoroso da obediência, e a marcar o
limite desta obrigação” (leia o discurso completo neste
artigo). Hoje em dia virou moda católicos aviltarem contra o papa e o
atacarem publicamente, mas naquela época se alguém fizesse isso com um simples
padre já era caçado pela Inquisição, quanto mais se fizesse com o papa.
O protestantismo, com o
princípio basilar do sacerdócio universal de todos os crentes, destruiu a
barreira que separava leigos e clérigos espiritualmente e fez de todos os
batizados “sacerdotes”, ou seja, responsáveis por si mesmos diante de Deus e capazes
de alcançá-lo sem a mediação de sacerdotes formais. Enquanto no catolicismo
romano havia uma distância intransponível entre o clero e os leigos, cuja missa
feita em um idioma desconhecido do povo e de costas para ele era a coisa mais
representativa possível, na Reforma esse desprezo aos leigos foi convertido em emancipação
e dignidade.
Então avançamos cinco séculos, e
o que vemos hoje em muitas igrejas alegadamente evangélicas? Um retorno à
mentalidade de submissão incondicional ao líder religioso, a volta a uma hierarquia
de comando cego, o retorno a uma mentalidade de um “clero superior” em
contraposição aos leigos, em posição de inferioridade. Um livro que foi em
grande parte responsável por isso e que trouxe efeitos nefastos na Igreja moderna
foi o “Autoridade Espiritual”, do Watchman Nee, um asiático que mistura
conceitos da filosofia confucionista chinesa com os da Bíblia, cujo propósito é
dar ao pastor um status de “intocável” no pior sentido possível: o de estar
acima da repreensão e da crítica.
As igrejas que seguem os ensinos
de Nee têm até um chavão que gostam de usar quando alguém critica um pastor:
“Não toque no ungido do Senhor!”. Como sempre, a “exejegue” é do pior nível
possível: pegam textos isolados do Antigo Testamento que falam de reis e não de
sacerdotes, cujo sentido é de não
matá-los e não de não criticá-los, e
por meio de malabarismos interpretativos concluem que o pastor está acima da
crítica, mesmo quando estiver ensinando algo flagrantemente herético (como este
próprio ensino). A justificativa nem importa muito, já que eles sabem que a
imensa maioria dos membros dessas igrejas não tem o hábito de estudar a Bíblia,
bastando então encontrar qualquer pretexto que os faça acreditar que
ensinos diabólicos como esse são “bíblicos”.
A Igreja nas mãos de Roma era
uma ditadura; a Reforma a transformou em uma democracia, e os pastores
modernos, descontentes com isso, restauraram a ditadura para poderem pregar
falsas doutrinas sem qualquer impedimento ou restrição, exatamente como faziam
os papas. Uma dessas heresias, que em certo sentido foi pregada por ambos, é a
teologia da prosperidade, a respeito da qual eu já abordei neste artigo do meu outro site. A Igreja Romana da época de Lutero não dizia que
o cristão tinha que enriquecer ou que Deus se responsabilizava por isso, até
porque praticamente todo mundo vivia entre a linha da pobreza e a da miséria,
mas era de longe a instituição mais rica do mundo, que acumulava fortunas e
terras em todo lugar, construindo basílicas monumentais e catedrais esplendorosas
enquanto o povo, literalmente, morria de fome (mas mesmo assim era obrigado a pagar um dízimo duplo, que
era o imposto eclesiástico da época).
Ninguém precisa ser um grande
observador para notar a semelhança gritante com os nossos dias, bastando para
isso olhar o suntuoso “templo de Salomão/Macedo” enquanto os membros dessas
igrejas são, em suma maioria, pessoas muito pobres e simples. E por mais que
não se exija o dízimo como a Igreja de Roma fazia coercitivamente, os fieis são
tão constantemente constrangidos a doar tudo o que puderem que muitos doam o
que tem e o que não têm, apavorados com a ameaça do devorador e do gafanhoto,
além do fogo do inferno. O resultado é o mesmo da era medieval: um clero (pastores)
extremamente rico, em contraste a um povo cada vez mais pobre. A teologia da
prosperidade funciona mesmo, mas só para os engravatados ou de batina.
Há outros muitos aspectos em que
uma parte das igrejas evangélicas tem se assemelhado aos moldes católicos em
sua pior época, como, por exemplo, o hábito de se repetir, e repetir, e
repetir, e repetir mais ainda as mesmas coisas na liturgia (culto). O padre
repete quinhentas vezes o Ave-Maria ou qualquer outra reza ou frase já
conhecida, enquanto muitas igrejas pentecostais pegaram o vício de se repetir
do mesmo modo os chamados “jargões”, tais como “glória a Deus”, “aleluia”, “a
paz do Senhor”, “a vitória é sua”, etc. Eu até entendo quando alguém repete isso
uma vez, ou duas vezes, ou algumas vezes, mas quando fica literalmente o culto
todo repetindo isso já é demais, ninguém aguenta. É como se na cabeça deles
quanto mais alguém repete esses jargões mais “espiritual” essa pessoa é, da mesma
forma que os padres pensavam que Deus se orgulhava deles pela repetição
exaustiva de palavras e frases.
Nunca vou me esquecer do dia em
que participei de um “culto”, há muitos anos atrás, em uma igrejinha que eu
respeito muito até hoje, mas que naquele dia chamou para pregar um indivíduo
que claramente não tinha nenhum conteúdo, nenhum preparo, nenhuma mensagem, e
tudo o que fazia era berrar, pular, gritar, sapatear, fazer voz grossa e
repetir a palavra “vitória” mil vezes, aos berros. Suava dos pés à cabeça, mas
não se cansava. A comunidade entrava em estado de êxtase, mas saía dali e cinco
minutos depois já não se lembrava de nada da palavra, porque não teve palavra
nenhuma. Infelizmente, de lá pra cá o cenário só piorou, e muitos cultos tem se
transformado numa mera animação de palco (e em casos mais extremos, em um
verdadeiro circo). Lutero pegou a época de pior corrupção moral da história da
Igreja, mas, se ressuscitasse hoje, talvez não achasse as coisas muito melhores.
É sempre triste quando eu tenho
que escrever um artigo como esse, condenando erros internos na comunidade
evangélica que, com certeza, continuarão existindo com ou sem admoestações como
essa. Mas é justamente para isso que a internet existe: para tirar o monopólio
das mãos daqueles que por tanto tempo tiveram um discurso hegemônico com o poder
de determinar o que deve ou não ser crido, e desta forma influenciar uma nova
geração mais esclarecida que a atual, que reformará suas comunidades religiosas
com a limpeza que deve ser feita – a que Lutero não hesitou em fazer, e que
cabe a cada um de nós hoje.
Fonte: lucasbanzoli.com






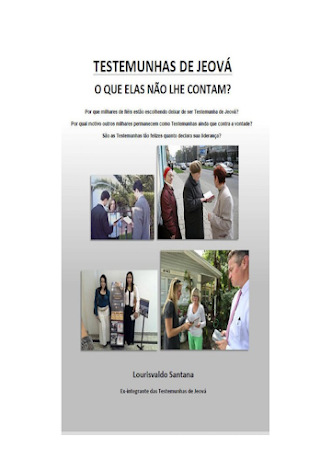








Nenhum comentário:
Postar um comentário